
Por Thiago Esteves Barbosa* — No Brasil, quando duas figuras de grande estatura política entram em confronto direto, raramente há um vencedor duradouro. Em vez de vitórias claras, o que se repete é um padrão de erosão mútua: um dos lados sofre no curto prazo, seja por cassação, prisão, seja por renúncia; o outro, embora pareça preservado, enfrenta perda de capital simbólico, isolamento político ou desgaste institucional no médio e longo prazo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O caso emblemático de 1954 ilustra o fenômeno. Sobrevivente do atentado da Rua Tonelero, Carlos Lacerda deixou de ser apenas um opositor barulhento para se tornar peça central na pressão que levou Getúlio Vargas ao suicídio. A tragédia projetou Lacerda nacionalmente, mas redefiniu sua trajetória. A comoção popular revalorizou o presidente, e Lacerda passou a carregar o estigma de conspirador. Seu discurso intransigente ainda o levou ao governo da Guanabara, mas inviabilizou o principal objetivo: chegar ao Planalto.
Décadas depois, o Mensalão produziu um embate de alta voltagem entre o então ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa e o ministro José Dirceu. Dirceu, além de deixar a Casa Civil do Governo Lula, perdeu o mandato, foi condenado e preso, tornando-se símbolo da derrocada de um projeto de poder. Barbosa, por sua vez, emergiu como "paladino do combate à corrupção", alcançando popularidade inédita para um magistrado. Porém, ao aposentar-se do STF em 2014, alegando motivos de saúde, viu-se sem base partidária ou coalizão de apoio. Tentou testar sua força eleitoral em 2018, chegou a liderar pesquisas preliminares, mas desistiu da disputa presidencial poucos meses depois. Parte do eleitorado que o saudara em 2012 migrou para outras candidaturas: setores conservadores questionavam suas posições sobre direitos civis e grupos progressistas viam nele o rosto de um processo que consideravam politizado. Barbosa terminou a década mais distante da arena pública, ilustrando o custo de longo prazo que esses confrontos podem impor ao protagonista que, inicialmente, parece triunfante.
O impeachment de Dilma Rousseff é outro caso revelador. A então presidente foi afastada por decisão do Congresso, sob a condução de Eduardo Cunha, que mesmo sendo alvo de denúncias graves, operou o processo que levou à deposição da presidente com habilidade regimental e apoio de parte da base aliada. Dilma perdeu o cargo, mas conservou parcela de seu capital simbólico e consolidou a narrativa de que sofreu uma injustiça política. Cunha, por sua vez, enfrentou rapidamente uma série de desdobramentos judiciais e políticos: foi cassado, preso e perdeu a capacidade de articulação institucional que havia acumulado. Sua trajetória, profundamente marcada por aquele embate, ilustra mais uma vez o padrão de dano recíproco.
A Lava-Jato reforça esse padrão. A operação foi se consolidando, ao longo de meses, como um fenômeno inédito no sistema judicial brasileiro: partindo de investigações sobre corrupção na Petrobras, tornou-se uma força-tarefa com poder de pautar o debate público, mobilizar a opinião popular e influenciar diretamente o sistema político. Seu crescimento foi marcado por uma dinâmica de encadeamento narrativo, na qual novas fases e personagens eram apresentados quase semanalmente, em coletiva de imprensa com forte apelo simbólico e estético. Nesse contexto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se o principal alvo. Suas denúncias, condução coercitiva, condenações e prisão consolidaram o que muitos viam como o ápice do combate à corrupção. Por outro lado, também alimentaram a percepção, em amplos setores da sociedade, de que havia uma personalização da justiça e um uso político das instituições judiciais. Sergio Moro, então juiz de primeira instância, e Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa no Ministério Público, ascenderam como protagonistas públicos da operação. Ganharam espaço na mídia, apoio de parcelas expressivas da população e protagonismo institucional — mas também acumularam críticas quanto à seletividade e aos métodos empregados. Lula, impedido de disputar a eleição de 2018, foi preso por mais de um ano. No entanto, em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou suas condenações e declarou a parcialidade do então juiz. A decisão teve efeitos devastadores para a imagem pública da operação. Moro e Dallagnol, agora figuras políticas, passaram a enfrentar uma série de revezes: o primeiro, hoje senador, foi alvo de uma ação no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e no TSE por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2022 — uma iniciativa que expôs sua atuação política; o segundo foi considerado inelegível pelo TSE. O que começou como um esforço institucional de combate à corrupção tornou-se, ao fim, um conflito político-judicial de alta intensidade, que afetou profundamente todos os seus protagonistas — e tensionou as estruturas do sistema democrático.
O confronto entre ex-presidente Michel Temer e o então procurador-geral Rodrigo Janot também exemplifica o fenômeno. Durante seu mandato, Temer foi denunciado duas vezes por Janot, com base em delações de executivos da JBS. O presidente, no entanto, resistiu, manteve a base aliada no Congresso e impediu o prosseguimento das denúncias. Deixou o governo com o capital político reduzido e popularidade muito baixa. No entanto, anos depois, voltou a ser reconhecido como liderança política relevante, especialmente por setores da elite política e empresarial, que valorizam sua capacidade de articulação e sua agenda de reformas. Ainda assim, sua impopularidade crônica inviabilizou qualquer projeto eleitoral nacional. Já Janot encerrou seu mandato isolado, sob suspeitas de excessos e politização, e não voltou a exercer papel relevante no debate público institucional.
Esses episódios têm início, na maior parte das vezes, por canais institucionais legítimos: delações homologadas, pedidos de impeachment amparados em fundamentos formais, denúncias amparadas por prerrogativas constitucionais. O problema não está exatamente na ausência de mecanismos de controle — mas nos excessos cometidos por alguns de seus operadores, que, ao extrapolarem os limites de suas funções, transformam embates institucionais em confrontos personalizados. Trata-se menos de uma falha estrutural e mais de um sistema que demora a conter — e nem sempre contém — esses excessos a tempo de evitar danos amplos.
Por que isso acontece? Diversos estudiosos apontam a combinação de presidencialismo de coalizão, fragmentação partidária e judicialização como elementos que ampliam a margem para disputas personalistas. Mas há outro fator decisivo: a possibilidade de atores institucionais acumularem protagonismo excessivo, sem contrapesos imediatos. Presidentes da República, ministros do STF, procuradores-gerais ou presidentes da Câmara podem, em determinados contextos, conduzir embates que deixam de ser impessoais e passam a ser travados em nome próprio. O sistema resiste, mas não sem custos.
O embate vigente entre ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes sugere repetição do padrão. Bolsonaro já acumula inelegibilidade e diversas investigações. Moraes, encarregado de processos sensíveis no STF e no TSE, tornou-se uma das figuras mais centrais da República — e, também, um alvo preferencial de críticas. Seu protagonismo pode conferir-lhe prestígio institucional duradouro ou cobrar um preço alto, caso parte significativa da sociedade passe a vê-lo mais como ator político do que como magistrado.
Em estudo acadêmico que desenvolvo, denomino esse fenômeno de "embates assimétricos de dano mútuo": confrontos entre "gigantes" que geram prejuízos relevantes para ambos, mas de maneira desigual no tempo, na forma e na intensidade. Muitas vezes, o maior impacto não é pessoal, e sim institucional. Tribunais têm sua legitimidade questionada, o Ministério Público se politiza e, o parlamento, paralisa-se. O dano colateral, portanto, não é menor; pode ser gravíssimo e deflagrar novas crises.
Não se trata de condenar o conflito político — inerente à democracia —, mas de reconhecer que sem mediação eficaz e a tempo, o embate personalista converte-se em autodestruição compartilhada. E quando os protagonistas caem, não raro é o próprio sistema que sangra.
Advogado e mestre em ciência política pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados*
Saiba Mais
 Direito e Justiça
Direito e Justiça
 Direito e Justiça
Direito e Justiça
 Direito e Justiça
Direito e Justiça
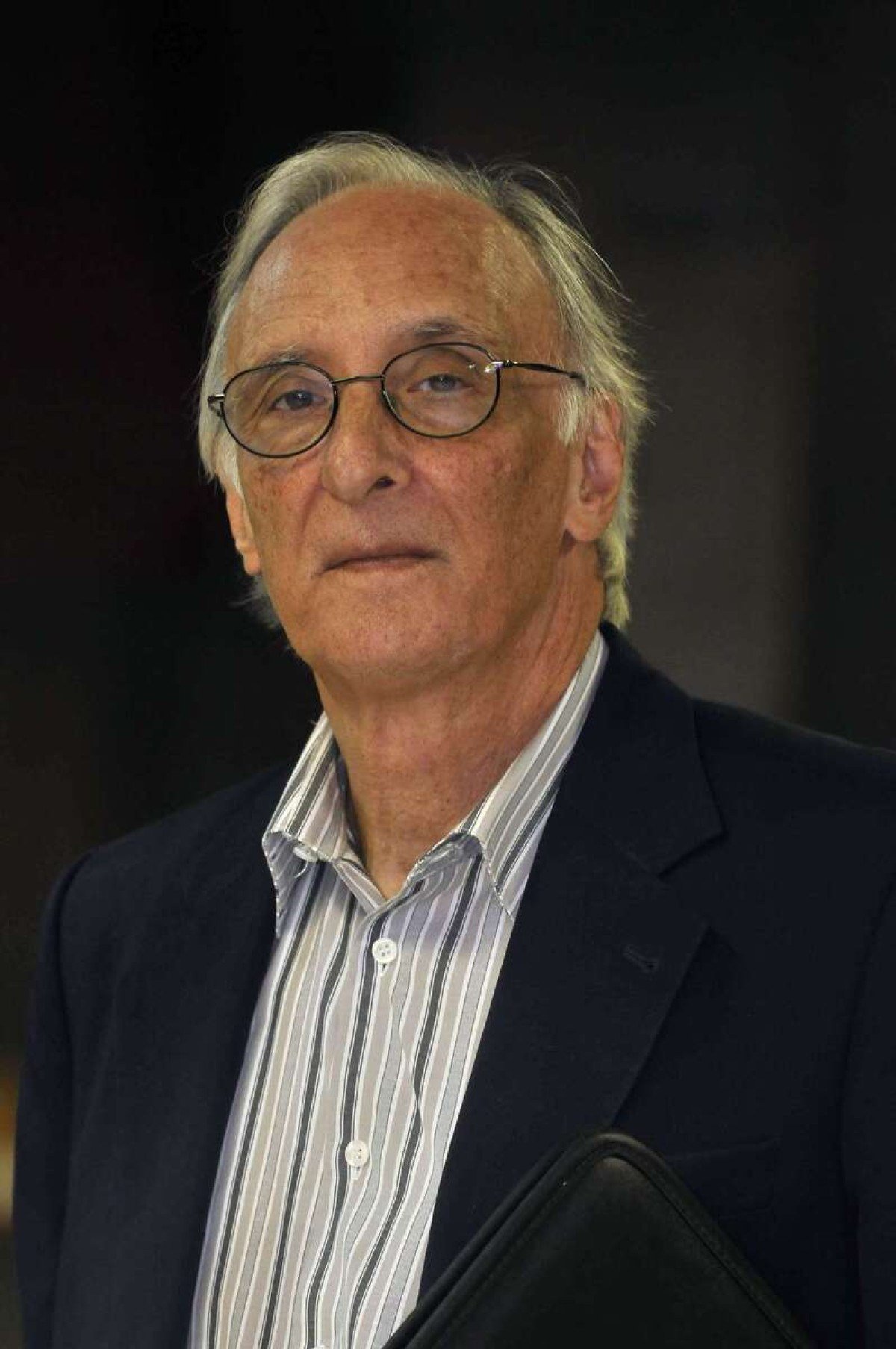 Direito e Justiça
Direito e Justiça